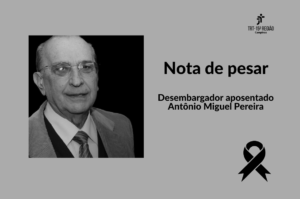O Brasil vive momento de atenção crescente à governança regulatória. Nos últimos anos, leis e decretos passaram a exigir que as administrações públicas adotem cardápio de procedimentos para edição e revisão de normas: desde a realização de estudos prévios sobre impactos e benefícios (análise de impacto regulatório) até a atualização contínua (gestão do estoque regulatório), além da ampliação da transparência dos processos, por meio de audiências, consultas públicas e tomadas de subsídios, por exemplo.
Esses instrumentos se espalharam por normas, manuais e diretrizes. Legisladores tornaram-se mais exigentes, organismos internacionais monitoram o tema de perto e pesquisadores têm produzido diagnósticos e propostas. Aos poucos, consolidou-se agenda que hoje parece consensual: é preciso aperfeiçoar o método para regular.
Mas há outra questão importante e, em geral, ainda menos discutida: como essa agenda se sustenta no cotidiano de quem a coloca em prática? Estariam as administrações públicas preparadas para implementar esses processos?
O que a experiência recente mostra
Pesquisa do Núcleo Público da FGV Direito SP, com apoio da Fiesp, analisou duas experiências recentes no governo federal que expõem esse dilema. Uma voltada à criação de normas: a edição da resolução 122/2022 da Agência Nacional de Mineração (ANM), que procurou disciplinar as sanções no setor. Outra dedicada à revisão de normas: o esforço do Inmetro para revisar e consolidar seu estoque regulatório, conforme o decreto 10.139/2019.
No Inmetro, o trabalho resultou na redução de 70% dos atos normativos ligados a programas de conformidade, por meio de revogações e consolidações (de 491 para 145 atos). A pesquisa, porém, também identificou desafios quanto ao uso de instrumentos voltados à melhoria da regulação.
As limitações de pessoal e de estrutura interna do instituto influenciaram as escolhas sobre como lidar com a determinação trazida pelo decreto 10.139/2019, que estabeleceu a revisão e a consolidação do estoque regulatório de órgãos e entidades da administração pública federal.
O gargalo ficou evidente nos relatórios de avaliação de resultado regulatório (ARR): um único servidor foi responsável pela elaboração de todos os documentos divulgados. A ausência de dados e informações sistematizadas impediu tanto a identificação clara do problema que a norma avaliada pretendia solucionar quanto a aplicação de métodos adequados para comparar, em termos de custos e benefícios, os cenários com e sem a regulação.
Se no Inmetro as limitações estruturais afetaram a avaliação retrospectiva, na ANM elas impactaram a regulação prospectiva.
A ANM nasceu em condições desafiadoras: foi criada após o desastre de Mariana, em 2017, e enfrentou Brumadinho apenas dois meses depois. Surgiu sem concurso público e herdou o corpo técnico do antigo DNPM, cuja formação não era voltada à atividade regulatória.
Em 2020, como resposta a esses acidentes, a lei 14.066 alterou drasticamente os limites das multas da Política Nacional de Segurança de Barragens e deu à ANM 180 dias para regulamentar o processo sancionador e os critérios de cálculo das penalidades. As multas saltaram de R$ 3.500 para valores que poderiam chegar a R$ 1 bilhão.
Era tarefa complexa para um regulador com quadro reduzido, pouca experiência em regulação e prazo apertado. Pressionada, a ANM dispensou formalmente a análise de impacto regulatório (AIR), alegando urgência. A pesquisa mostrou, porém, que a agência acabou realizando um processo análogo de forma fragmentada e concomitante à edição da norma, recorrendo a outros mecanismos de participação – como tomadas de subsídios, reuniões e audiências públicas.
Esses instrumentos, embora úteis para assegurar diálogo com o setor, também evidenciaram os custos do improviso: a revisão se prolongou por mais de dois anos, exigindo análises e reanálises em diferentes fases do ciclo de vida da norma e impulsionando a judicialização.
A raiz dos entraves: capacidade institucional
As experiências da ANM e do Inmetro demonstram que a qualidade da regulação depende da capacidade institucional dos órgãos e entidades – disponibilidade de pessoal, recursos e domínio dos procedimentos.
Essa relação entre capacidade institucional e qualidade regulatória não é recente no debate internacional. A OCDE reconhece que servidores públicos contribuem de forma decisiva para o crescimento nacional, e que a digitalização e sociedades mais exigentes têm desafiado a administração pública a trabalhar de novas maneiras.
A OCDE também destaca que, para a implementação efetiva da AIR, um dos instrumentos centrais do movimento de melhoria da governança regulatória, é essencial fortalecer a força de trabalho pública por meio de orientação e capacitação.
No Brasil, porém, os obstáculos são mais elementares: além da necessidade de capacitação, diagnosticou-se uma escassez de recursos materiais e acúmulo de atribuições – entraves estruturais que comprometem a própria viabilidade de regular bem.
O debate sobre governança regulatória no país, então, tende a avançar quando coloca a capacidade institucional no centro da discussão: como assegurar que órgãos e entidades tenham as condições necessárias para executar os procedimentos exigidos pela legislação?
Trata-se de desafio tão prioritário quanto a definição dos próprios procedimentos. Afinal, não basta ter boas regras estabelecidas – é preciso ter quem as coloque em prática.